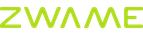Versão testada: Nintendo Switch
Disponível para: Nintendo Switch
Onde comprar: Comparador ZWAME, Tropical Price
Depois de fazer um jogo amplamente considerado um dos melhores de sempre, senão o melhor, o que é que se faz? Até ao lançamento de Breath of the Wild, Zelda vivia na sombra do gigante Ocarina of Time – crescer para lá dela foi difícil e demorado. Com The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a Nintendo quis criar uma sombra maior do que nunca.
Tears of the Kingdom passa-se poucos anos depois da derrota de Calamity Ganon em Breath of the Wild. A paz regressou a Hyrule, mas não durante muito tempo – uma substância escura começou a espalhar-se pelo mundo e a deixar pessoas doentes ou pior. Essa substância, a que deram o nome de Gloom, também corroeu todas as armas à superfície, deixando-as incrivelmente frágeis. A Princesa Zelda e o seu guerreiro, Link, seguem o rasto de Gloom até às profundezas debaixo do castelo de Hyrule. Aí libertam acidentalmente Ganondorf, o rei dos Demónios, responsável por incontáveis calamidades ao longo da história. Na comoção, a Zelda desaparece e o Link ganha um braço mágico e a missão de, mais uma vez, salvar o mundo.
A nova velha Hyrule
Antes de nos ser dada total liberdade, estamos confinados a um arquipélago que flutua no céu e onde vamos aprender as bases, assim como obter as habilidades únicas que nos vão acompanhar durante toda a aventura. O jogo ensina-nos o necessário rapidamente e de uma maneira pouco intrusiva, mas não há qualquer pressa em ir embora: há várias coisas a chamar-nos a atenção e oportunidades para podermos testar as nossas novas habilidades. Uma vez preparados, podemos fazer skydiving e a aventura começa a sério.
Tears of the Kingdom passa-se em três planos: superfície, céu e profundezas. A superfície é o mesmo local de Breath of the Wild, mas com mais mudanças do que só as causadas pelo tempo. Quando o Link e a Zelda libertaram o Ganondorf, o castelo de Hyrule levantou-se para o céu, onde apareceram várias ilhas flutuantes. Na superfície começaram a cair detritos vindos do céu e em todo o lado abriram-se entradas para grutas e abismos para um submundo nas profundezas, aptamente apelidado de Depths. A este fenómeno deu-se o nome de Upheaval. Tanto o mundo subterrâneo como o céu cobrem toda a extensão de Hyrule, ou seja, temos um mapa três vezes maior do que antes… mais ou menos.
Utilizar o mesmo mundo que o jogo anterior como base é arriscado, mas tem as suas vantagens. Ao aproveitar o incrível mundo de Breath of the Wild, poupou-se tempo e esforço que pode ser usado para tornar o mundo muito maior e mais complexo. Lidar com personagens e locais já conhecidos também é uma mais-valia a nível narrativo e de worldbuilding.
Para muitos, a última vez que visitaram esta Hyrule foi há 6 anos, mas para outros (como eu) foi ontem. Tinha, por isso, especial medo que voltar ao mundo onde já passei mais de 300 horas fosse aborrecido – é inegável que explorar um mundo completamente novo é uma parte importante de um jogo de aventura como estes. Sem dúvida que se perde impacto ao explorar a mesma Hyrule pela segunda vez, mesmo que seja altamente improvável que o façamos da mesma maneira que antes. As paisagens são as mesmas, mas também é interessante ver como o mundo mudou com o tempo e com o Upheaval. Falar com personagens que se lembram de nós e dos nossos feitos também é refrescante, visto que o Link é sempre um perfeito desconhecido nos outros jogos.
As aldeias que já conhecemos sofreram algumas mudanças e em Lookout Landing, uma pequena nova povoação, as pessoas de Hyrule estão a unir-se para reconstruir o reino e construir um novo futuro. Construção e reconstrução são temas importantes em Tears of the Kingdom. Sem a ameaça de Calamity Ganon a espreitar em todos os momentos, e com a liderança e apoio da princesa Zelda, Hyrule tem esperança outra vez e isso ouve-se bem no tema musical de Lookout Landing e na maneira como ele muda com a história. O mundo pode ser o mesmo, mas vale a pena descobri-lo de novo e ver que sítios novos há para conhecer.
A maioria de Breath of the Wild passava-se ao ar livre, mas em Tears of the Kingdom não faltam oportunidades para fazer um pouco de espeleologia. As cavernas, grutas e poços que surgiram por todo o mapa são precisamente o elemento que faltava a Hyrule para completar a vibe de aventura Sword & Sorcery. Desde as pequenas cavernas com apenas uns peixes e cogumelos às grandes grutas com ruínas e tesouros, todas tornam o mundo mais completo, interessante e variado. Se já é pouco usual todos os montes e montanhas de um open world serem navegáveis e interessantes, quanto mais o seu interior e o que está por baixo deles.
Mundos paralelos
Os abismos que se abriram na terra e de onde sai Gloom levam-nos para as Depths, o submundo onde a luz não chega. As Depths são tão grandes como a superfície, mas menos desenvolvidas; não há pessoas (amigáveis) e há menos montanhas para escalar e pontos de interesse. Por isso, apesar de os mapas serem do mesmo tamanho, há menos para fazer no submundo do que na superfície, pelo que dizer que têm o mesmo tamanho pode ser enganador. Mesmo assim, não deixa de ser um mapa enorme com imenso conteúdo interessante e razões para explorar durante horas a fio.
Enquanto avançamos pelas profundezas inóspitas de Hyrule temos de iluminar o caminho até encontrarmos Lightroots,as únicas fontes de luz das Depths, que ao serem ativadas iluminam um pouco das redondezas. O terreno não só é muito acidentado – é literalmente o inverso do da superfície – como pode estar repleto de Gloom que, ao entrar em contacto connosco, reduz a nossa vida total até apanharmos luz solar ou consumirmos a coisa certa. Como se isso não bastasse, quase tudo o que se mexe quer-nos matar e está coberto de Gloom, por isso cada ataque que sofremos tem consequências bem maiores. É justo dizer que é um ambiente hostil.
Em qualquer altura podemos voltar “lá para cima”, mas explorar as Depths é incrivelmente apelativo e a curiosidade faz-me sempre querer continuar a esticar mais a corda. Andar de Lighroot em Lightroot a iluminar as Depths e preencher o mapa é como andar de checkpoint em checkpoint, de oásis em oásis, até ficarmos sem recursos ou vida. É um tipo de survival mais intenso do que no resto do jogo, não só por causa da escuridão, mas porque estamos dependentes de recursos que só podem ser obtidos na superfície e no céu. Sem estes não nos conseguimos curar, recuperar do efeito do Gloom ou sequer iluminar o caminho. O tom e ritmo das profundezas é completamente diferente do resto do jogo: o ambiente opressivo que nos pesa em cima enquanto avançamos às escuras é o oposto do da superfície, onde há liberdade e podemos sempre ver até ao horizonte. Se lá em cima o mundo nos convida a explorar, aqui ele resiste-nos. É claro que isso nunca impediu ninguém e nas profundezas há recursos e tesouros únicos a que são difíceis de resistir.
A pairar sobre Hyrule vamos encontrar dezenas de ilhas e construções repletas de todos os ingredientes necessários para uma boa aventura: masmorras, labirintos, restos de uma civilização antiga, tesouros, mapas de tesouro, inimigos e a possibilidade de os empurrar para fora das ilhas. O mapa é do mesmo tamanho dos outros, mas a área total que exploramos não é comparável. Como é natural, no céu, não há muito chão. Há, mesmo assim, muito para fazer nestas ilhas Laputianas, mesmo que muitas vezes sejam usadas só como ponto de partida para aceder a outros locais.
Os dois novos mapas, assim como as grutas e poços, são adições a um mapa que não foi desenhado a contar com elas. Isto podia facilmente ter resultado em três locais desconexos, mas o resultado foi exatamente o oposto e não é só por não haver loadings entre as áreas. Para ter luz nas Depths precisamos de materiais encontrados nas grutas da superfície e só nos podemos curar do Gloomcom uma flor que cresce nas ilhas do céu. Podemos partir das alturas para chegar a sítios novos tanto na superfície como nas profundezas, ou aceder a áreas de Hyrule através das Depths. As ligações continuam, de modo um pouco semelhante ao conceito de dois mundos visto inicialmente em A Link to the Past, mas apresentado de outra maneira.
Shrines parte II
No céu e superfície vamos encontrar mais de 150 shrines, santuários que nos transportam para um local onde temos de resolver alguns puzzles ou derrotar inimigos. É exatamente a fórmula seguida no Breath of the Wild e funciona perfeitamente. Estas shrines destacam-se ao longe, servindo de pontos de interesse e de locais de teleporte que depois facilitam a nossa deslocação pelo mundo. Pontuam a nossa aventura com pequenos desafios que podiam estar num Zelda clássico e que nos fazem usar as nossas habilidades de uma forma um pouco diferente do que na natureza. Com as recompensas destas shrines podemos aumentar a nossa vida e stamina, pelo que, quanto mais completarmos, mais fortes ficamos.
Os puzzles raramente são muito difíceis, mas ainda há uns quantos que fazem puxar pela cabeça e criatividade, uma vez que há sempre mais do que uma solução. Algumas shrines são demasiado curtas e sabem a pouco, ficando a sensação de que a ideia por detrás dos puzzles ainda podia render mais. Por outro lado, com tantas shrines, há um número absurdamente alto de ideias diferentes a serem apresentadas, cada uma com várias soluções.
Por vezes o objetivo é derrotar um grupo de inimigos sem podermos usar nenhum do nosso equipamento ou itens. Sem as nossas coisas, temos de ter mais cuidado em combate e usar o que está à mão, o que nos incentiva a interagir com vários sistemas do jogo. São testes à nossa perícia bem mais divertidos e interessantes do que as shrines de combate do jogo anterior.
Existem algumas shrines que são basicamente tutoriais para ambientar o jogador a certas armas e situações de combate básicas, mas, como podemos encontrá-las em qualquer ponto da nossa aventura, é possível ter 100 horas de jogo e estar a “aprender” a usar o arco. Especialmente tendo em conta que o jogo ensina o essencial no início e o resto se aprende jogando, não há razão para a existência destes tutoriais disfarçados. Felizmente são muito poucos.
Habilidades
No início do jogo obtemos as imprescindíveis novas habilidades: Ascend, Recall, Fusion e Ultrahand. Ascend deixa-nos atravessar o objeto sólido por cima de nós (com certos limites), como por exemplo, atravessar o teto do primeiro andar para chegar ao segundo. Ir para uma plataforma diretamente acima de nós costumava ter uma lógica completamente diferente. Antes, teríamos de saltar de um sítio mais alto ou escalar por uma parede; agora basta estar debaixo da plataforma e usar o Ascend. Do mesmo modo, uma gruta ou túnel são oportunidades de atravessar uma montanha em segundos e chegar ao cume. Isto e outras utilizações mudam bastante a maneira como nos deslocamos e interagimos com o mundo, integrando-se perfeitamente com o design de mapa focado em verticalidade.
A Ultrahand, além de nos deixar pegar em coisas e movê-las livremente, serve para unir objectos, como vários troncos para fazer uma ponte. Podem-se fazer construções mais complexas do que isso. Usando artefactos mecânicos da civilização antiga dos Zonai, podemos criar todo o tipo de máquinas. Desde que os objetos estejam conectados entre si (indicado por uma cola verde nos pontos de ligação), estão ligados num circuito, o que significa que ao atingir qualquer peça vamos ativar a corrente e a função dos artefactos. Há vários tipos de rodas, foguetes, bombas, lasers, guiadores, pássaros planadores, etc. Juntamente com outras coisas que possamos encontrar, é possível fazer autênticas obras de engenharia. Podem ser coisas simples como um carrinho lento ou um balão de ar quente; talvez um pássaro com várias ventoinhas, foguetes e rodas por baixo, mas isso é o básico. Com imaginação, jeito e os recursos certos, nem o céu é o limite: robôs e máquinas de guerra devastadoras, barcos de pesca super eficientes, helicópteros e coisas que nem consigo imaginar são possíveis de criar. É um sistema incrivelmente robusto que permite uma criatividade imensa na maneira como abordamos o jogo, desde a deslocação e combate à resolução de puzzles. Fazer isto de forma tão estável e fácil de usar, tirando proveito de todo o sistema de física de jogo, é um feito notável.
Recall faz um objeto voltar atrás no tempo. É muito útil para transformar pedaços de ruínas acabadas de cair de uma ilha no céu em elevadores, ou para fazer um Bokoblin arrepender-se de nos ter atirado um barril explosivo. Se deixarmos cair uma construção por uma montanha abaixo (o que me acontece a toda a hora), não faz mal; com o Recall, é fácil fazê-la voltar para trás. Esta é talvez a habilidade em que seja menos intuitivo encontrar situações para a usar, mas elas existem, mesmo que não sejam imediatamente óbvias.
Fusion permite-nos fundir quase tudo o que quisermos às nossas armas, escudos e flechas. Isto serve para aumentar a durabilidade e o ataque, assim como adicionar efeitos como fogo, fumo ou explosões, entre muitos outros. Podemos, por exemplo, fundir um ramo com o corno afiado de um monstro, pôr um lança-chamas num escudo ou uma bomba numa flecha. A quantidade de combinações possíveis é gigante. Isto liga-se ao aspeto mais divisivo de Breath of the Wild: a durabilidade das armas, que se partem facilmente com o uso e são feitas para serem descartáveis. Nem toda a gente gostou deste sistema, mas ele está intrinsecamente ligado a vários aspetos fundamentais do jogo. Armas que se partem com o uso obrigam o jogador a experimentar outras, em vez de se fixar numa arma preferida, que é o comportamento mais habitual. Isto também faz com que seja preciso ter em conta o equipamento antes de uma batalha e a ter de saber reagir quando algo se parte. Preparação não é só para o Batman; também é uma parte importante destes jogos. Além disso, precisar de trocar regularmente de armas dá-nos mais uma razão para atacar os inimigos e permite preencher mais baús com armas que vamos usar, em vez de irem para a mochila ganhar pó. O facto de as armas e escudos se quebrarem abre muitas portas, mesmo que isso não seja imediatamente óbvio e tenha desvantagens. A definição de Shigeru Miyamoto de uma boa ideia é uma que resolve vários problemas e é precisamente isso que Fusion faz.
Grande parte das armas que encontramos são ainda mais fracas e quebradiças do que antes, por isso somos altamente incentivados a fundi-las a outras coisas para aumentar a durabilidade. Inicialmente usei muitas pedras e juntei armas a outras armas, o que tem um aspeto ridículo, mas é engraçado e útil. Quem nunca quis uma lança na ponta de outra lança para cumprir o distanciamento social de um Lizalfos? Depois apercebi-me de que, ao contrário de quase todos os jogos que existem, as centenas de itens que apanhamos podem e devem ser utilizados. Todos os inimigos largam algum material que nos pode ser útil: cornos são uma excelente forma de aumentar o ataque, caudas de Lizalfos criam uma espécie de chicote, geleia de Chu Chu amarelo adiciona dano elétrico à arma, etc. Tudo tem uma utilização e é muito divertido testar novas combinações e ver qual o aspeto que vão ter e como elas permitem novas táticas de combate e maneiras de navegar pelo mundo. Equipamento que demora mais a partir-se é naturalmente menos frustrante e pôr na mão dos jogadores o processo de criar peças mais únicas é um incentivo ainda maior a querer variar e experimentar armas novas. Como a Fusion torna todos os materiais mais úteis, há ainda mais razões para combater, explorar, apanhar itens e tesouros. Também faz com seja possível dar uso a armas que encontramos, mesmo que já não tenhamos espaço para mais. Além disso, agora há maneiras de obter facilmente armas especiais que tenhamos quebrado, por isso não é preciso ter medo de as usar.
Demorei algum tempo até assimilar estas habilidades. Afinal de contas não é normal pensar no teto como uma saída e, quando um calhau gigante vem a voar na minha direção, não é habitual fazê-lo voltar para trás a meio do ar. Controlar os objetos no ar, especialmente rodar, também leva um bocado de tempo a dominar, mas, com o hábito, torna-se segunda natureza (e os controlos por movimento dão muito jeito). As habilidades do primeiro jogo fazem alguma falta no início, mas quase todas são substituíveis ou não encaixavam com as novas mecânicas do jogo. A maneira como estas habilidades e todos os sistemas de jogo se conjugam uns com os outros em tantas vertentes do jogo é simplesmente brilhante.
Um mundo sem ordem
O mundo de Tears of the Kingdom é uma caixa de areia que nos permite ter uma aventura à nossa maneira – ou até ignorá-la de todo. Podemos ir onde queremos, quando queremos, como queremos; não há nenhuma ordem a seguir. Não há setas a indicar o caminho, ou um mapa repleto de ícones a dizer onde estão as coisas para puxar pela veia obsessiva de querer completar checklists. Podemos vaguear e dar com pontos de interesse ao calhas, seguir indicações e placas, ir ao céu para ver melhor o terreno ou descobrir uma abertura nas profundidades que, com a geringonça certa, nos deixa subir para um sítio novo na superfície. Apesar de já conhecermos muitas das paisagens e aldeias, as maneiras de lá chegarmos multiplicaram-se; por isso, não há razões para repetir o que fizemos em Breath of the Wild. Quando quisermos confrontar o Ganondorf, é só saltar para um buraco. A dificuldade desta batalha final vai depender do que já fizemos: fazendo as shrines ficamos com mais vida e stamina, enquanto que encontrar Koroks e ajudá-los a encontrar os amigos dá-nos espaço no inventário para ter mais armas e escudos. Fazer side quests e explorar, especialmente cavernas e as depths, dá-nos roupa que nos concede mais defesa e/ou uma série de outros benefícios. Tudo o que fazemos, todas as distrações (bem, quase todas) servem para nos tornar mais fortes e preparados para a batalha final.
Tempo de templos
Seguindo uma das missões principais do jogo, vamos investigar os fenómenos que estão a ocorrer nos reinos dos aliados de Hyrule – os Zoras, Gorons, Ritos e as Gerudo. Eles são aliados importantes na batalha final, fazendo uma diferença significativa não só a nível narrativo, mas também de dificuldade; por isso, temos todo o interesse em ajudá-los. Como é habitual, é assim que vamos encontrar os templos do jogo, mas chegar a cada um é uma aventura fantástica por si só, repleta de desafios e locais novos. A jornada até aos templos torna ténue a linha entre a aproximação ao templo e o templo em si; Skyward Sword deu o primeiro grande passo neste sentido e Breath of the Wild também o fez, mas Tears of the Kingdom leva-o a outro nível.
Os templos são consideravelmente melhores do que as Divine Beasts do anterior jogo, assemelhando-se mais a uma evolução das masmorras dos Zelda clássicos. No entanto, grande parte da experiência das masmorras tradicionais dependia de um certo grau de linearidade e limitações na maneira como nos movíamos e interagíamos com o mundo. Sem esses limites, a masmorra de Zelda na sua forma tradicional não pode existir, mas pode evoluir. Apesar de o layout dos templos ser menos labirintesco, continua a ser preciso usar o mapa e pensar para onde queremos ir e como queremos lá chegar – só que agora há mais maneiras de o fazer. E claro que podemos contar com muitos puzzles e inimigos pelo caminho.
Um representante de cada raça (personagens que conhecemos do jogo anterior, como o Yunobo) vai-nos acompanhar, ajudando-nos em combate e emprestando-nos as suas habilidades, como fazer vento ou invocar um trovão. No início de cada templo é-nos indicada a localização de um determinado número de gerigonças onde temos de usar estas habilidades para abrir caminho para o boss. A repetição desta estrutura é um pouco aborrecida e é um ponto mais fraco destas masmorras. Já os bosses são pontos altos, que estão milhas acima dos Blights de Breath of the Wild. As batalhas podem ser fáceis (dependendo do grau de preparação do jogador claro), mas são emocionantes, memoráveis e um bom ponto final para cada templo.
Os temas das masmorras podem ser batidos – fogo, água, etc. – mas o design visual está excelente e, se há jogo onde faz sentido usar os elementos, é este. Como é natural, nem todos os templos têm a mesma qualidade, mas todos estão bem conseguidos, com mecânicas e ideias únicas e bem concretizadas.
A recompensa de cada templo, além da ajuda dos nossos aliados na batalha final, é a capacidade de invocar cópias espirituais destes para nos ajudarem e emprestar as suas habilidades. Poder andar com uma trupe atrás que combate connosco é interessante e certamente novo na série, pelo menos desta forma. Estes espíritos não atacam muitas vezes, provavelmente para nos dar a oportunidade de o fazer, mas, de vez em quando, desferem golpes críticos e podem ser uma grande ajuda num aperto. Já as habilidades especiais destes estão implementadas de uma forma um pouco trapalhona. Para as usar temos de estar à frente do espírito e interagir com ele, o que significa que, em combate, é preciso encontrá-lo no meio da confusão, o que pode ser complicado, especialmente se tivermos vários em jogo. Também significa que volta e meia vamos chamar acidentalmente uma rajada de vento que empurra os itens que íamos apanhar por uma ravina abaixo. Como tudo, a utilização destes é opcional.
O som do silêncio
Tears of the Kingdom segue a filosofia de Breath of the Wild de deixar espaço para o silêncio, uma decisão arrojada, mas que resultou numa sonoridade única num Zelda. Ouvir as mesmas músicas incessantemente durante dezenas ou centenas de horas poderia ser extremamente cansativo, por isso as típicas melodias heroicas a que nos habituámos poderiam ter sido uma má escolha. Além disso, a falta de música tem o efeito importante de nos fazer sentir sozinhos num mundo enorme e dá-nos a hipótese de verdadeiramente ouvir o mundo à nossa volta. O vento nas árvores, um veado a fugir, água a correr ou uma tempestade a formar-se à distância, há um sem fim de pequenos sons da natureza que são tão ou mais significativos do que uma música poderia ser. Mas a natureza não é a única constante na nossa aventura, o barulho dos passos também está sempre presente. Este varia consoante o calçado e o tipo de terreno, enquanto as nossas armas e escudo chocalham umas com as outras nas nossas costas, fazendo barulhos diferentes consoante o material. Até equipar roupa que diminui o nosso barulho faz com que os sons sejam diferentes, como se o equipamento estivesse a ser manejado com mais cuidado. A sonoplastia tem um papel muito importante em dar vida a Hyrule e fá-lo brilhantemente.
Este silêncio todo não significa que o jogo não tenha música, mesmo quando estamos só às voltas. O piano foi o instrumento de escolha para retratar uma aventura solitária nas planícies e montanhas. Enquanto estamos a explorar, em vez de uma melodia que fica no ouvido, ouvem-se umas notas esporadicamente, como se estivessem perdidas no meio da imensidão. No início pode parecer que estão a tocar ao calhas, mas, na realidade, são pequeníssimas frases musicais separadas por períodos de silêncio irregulares. Como não antecipamos a música, não chegamos àquele ponto em que a temos tão cravada no cérebro que ou não a registamos ou já não a podemos ouvir mais. Se começarmos a ganhar alguma velocidade a andar de cavalo, o piano acompanha-nos e surge uma música com um ritmo bem mais elevado. De noite podemos até ouvir um violino a tocar a Zelda’s Lullaby por cima do piano.
Graças aos longos trechos de silêncio, a música pode mudar sem darmos conta, tornando a mudança de local mais orgânica também a nível sonoro. A música de um local como o Mount Hylia (aparentemente) não começa a tocar assim que passamos uma fronteira invisível e arbitrária que a natureza não reconhece. Num certo ponto, simplesmente notamos que estamos a ouvir uma música nova, às vezes até antes de percebermos que estamos num local novo.
Tudo o que escrevi até agora aplica-se tanto ao Tears of the Kingdom como ao Breath of the Wild; de facto, uma boa parte das músicas que vamos ouvir mais regularmente na superfície são as mesmas, com umas exceções aqui e ali. Foi aqui, mais do que no mapa em si, que senti que a repetição estava a prejudicar a minha experiência. É certo que isto cria uma sensação de continuidade e até pode ser nostálgico para alguns, mas deu-me um ligeiro sentimento de estagnação que não senti no resto do jogo. Gostava de ouvir mais diferenças, mesmo que pequenas, que mostrassem que Hyrule mudou um pouco desde que derrotámos o Calamity Ganon. As músicas de muitas das povoações são diferentes quando lá chegamos e as encontramos em sarilhos, mas, quando isso se resolve, voltam ao mesmo. São poucas músicas no meio de uma banda-sonora gigantesca cheia de faixas novas, mas, como pertencem a locais que visitamos regularmente, a repetição pesa.
Felizmente, isto só se aplica ao tempo que passamos nas aldeias e a explorar a superfície, porque, em todos os locais e situações novas, os compositores não pouparam esforços. As músicas do céu e superfície também são minimalistas, mas totalmente opostas; no céu o tom é leve e esperançoso, enquanto que nas depths é pesado e pouco convidativo, sem qualquer melodia. As verdadeiras bangers (os miúdos ainda dizem isto?) estão, naturalmente, nas quests principais. Há toda uma viagem musical que começa nas povoações em apuros, bem antes de entrarmos nos templos. Os temas destes são excelentes a criar o ambiente certo e ficam mais complexos à medida que progredimos, culminando nos absolutamente fantásticos e bombásticos temas dos bosses. Os compositores fizeram um excelente trabalho a criar músicas que evocassem personagens ou locais específicos (deste ou de outros jogos), não só incorporando os temas destes nas composições, mas também com os instrumentos usados. Por exemplo, o céu é representado pelo saxofone (um instrumento de sopro, à semelhança da flauta usada para os voadores Ritos) e o violino chinês representa os dragões. É uma banda-sonora inteligente e absolutamente brilhante que eleva a experiência de jogo em todos os aspetos.
No que toca às vozes, já não é bem assim. As vozes em Inglês são, tal como antes, geralmente medíocres, com alguns bons momentos e outros em que o jogo soa a uma má dobragem de desenho animado. A princesa Zelda soa insegura em momentos e certa de si noutros. Nesse aspeto a atriz Patricia Sommersett fez um bom trabalho a representar o estado da personagem através da voz . Infelizmente, o seu sotaque inglês não é o melhor e isso magoa a performance. O Ganondorf de Matt Mercer – talvez mais conhecido como o Dungeon Master de Critical Role – soa a um vilão genérico, mas acho que encaixa bem no papel de megalomaníaco manipulador e assustador. No que toca ao restante elenco, a qualidade varia, mas nunca brilha. A verdade é que certos diálogos estão escritos de uma maneira pouco natural, pelo menos em Inglês, e não sei se há interpretação que salve isso. Quanto às vozes japonesas, parecem-me bem, mas eu não falo Japonês, por isso, tanto quanto sei, podem ser péssimas.
O diálogo apenas é falado durante os vídeos; enquanto jogamos o texto só é acompanhado de pequenos trechos de voz. Por um lado, não me faz muita diferença que o diálogo não seja todo falado, visto que acabo quase sempre a passá-lo à frente depois de o ter lido. Por outro, à medida que os níveis de produção aumentam, começa a destoar cada vez mais ver pessoas a falar num momento e apenas a soltar grunhidos noutro. Não me interpretem mal, sempre adorei os grunhidos, gritos e afins soltados pelas personagens de Zelda desde o Ocarina of Time; provavelmente é nostalgia, mas acho engraçado e faz parte do charme. No entanto, acho que estes pequenos clipes de voz não foram muito bem utilizados neste jogo, especialmente porque se ouvem demasiado frequentemente numa só conversa, o que é um pouco irritante e, por vezes, francamente embaraçoso se estivermos com alguém ao lado.
Lágrimas nos olhos
Graficamente não se pode dizer que salte à vista uma grande diferença face ao jogo anterior, mas olhando um bocado mais a fundo há algumas melhorias. Primeiro, é preciso notar que o mundo é muito maior e completamente contínuo: podemos ir do ponto mais alto do céu ao ponto mais baixo das profundezas sem um único loading ou solavanco. Os únicos carregamentos são para entrar e sair de shrines e quando nos teleportamos. Claro que, como é comum neste tipo de jogos, há muitos assets repetidos; as cavernas e shrines têm quase todas o mesmo look e as Depths também são bastante uniformes. Mesmo assim, há uma grande variedade visual e o jogo, de alguma forma, cabe em 18.2 GB.
O framerate também sofreu melhorias; está quase sempre nos 30 fps, resvalando um pouco em locais mais intensivos graficamente, especialmente quando usamos a Ultrahand. De resto, é notavelmente estável, mesmo quando temos uma data de personagens e construções a semear caos. Claro que é preciso contar com a carga que a física complexa do jogo tem no CPU, assim como o número enorme de objetos interagíeis que podem estar no ecrã ao mesmo tempo. Por isso, presumo que seja possível levar o jogo ao limite e deixar a framerate de rastos.
A iluminação faz um trabalho fantástico a vender tanto um pôr do sol, como uma tempestade cheia de trovões ou um submundo sem incidência direta de luz natural. As animações do Link são muito detalhadas e variadas, expressando claramente não só o tipo de movimento conforme o terreno, mas condições como frio, calor ou cansaço. As animações das restantes personagens e inimigos também estão muito cuidadas, não esquecendo todo o movimento que há da natureza. Uma árvore abana numa tempestade num segundo e no outro leva com um trovão que a faz tombar, pegando fogo à relva circundante, o que cria uma corrente vertical de ar quente, que faz voar as maçãs que estavam na árvore. O mundo interage consigo mesmo e connosco e tudo isto exige uma quantidade de animações altíssima.
A qualidade de imagem é, expectavelmente, o aspeto visual mais fraco do jogo. Por baixo do capô, o jogo é renderizado a uma resolução dinâmica, com um alvo de 720p no modo portátil e 900p na TV. Depois é usada a tecnologia FSR 1.0 da AMD para fazer upscaling, resultando em resoluções efetivas de 720p e 1080p. Isto resulta numa imagem mais nítida do que em Breath of the Wild, mas não deixa de ter os seus problemas. Com uma resolução dinâmica em conjunto e sem falta de anti-aliasing, a imagem sofre. Não posso dizer que tenha pensado nisso um único segundo enquanto jogava – acho até que o jogo fica muito bonito numa Switch OLED -, mas pessoas mais sensíveis a estas coisas do que eu vão notar.Apesar das suas limitações, Tears of the Kingdom é um jogo lindíssimo. É certo que isto é, em grande parte, graças ao seu estilo artístico, mas não é de descurar que a nível técnico é impressionante que esteja a correr numa velhinha Switch com todos os seus 6 Watts.
O verdadeiro tesouro são as construções que fizemos no caminho
O que quer que o jogo tenha perdido ao expandir um mundo já conhecido é imensamente ultrapassado por tudo o resto que faz. Mais do que ter “só” uma quantidade estonteante de conteúdo novo de alta qualidade, faz coisas completamente diferentes que trabalham em simbiose com o que tinha sido estabelecido em Breath of the Wild para melhorar todos os seus aspetos fundamentais. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é uma obra prima de design de videojogos, mas, acima de tudo, é uma aventura fantástica e sem igual que nos dá as ferramentas e a liberdade para termos inúmeras outras aventuras fantásticas só nossas. Absolutamente imperdível.
Nota editorial: Cópia fornecida pela editora para efeitos de análise.
Veredito
Nota Final - 10
10
Conseguir encher um mundo tão grande, com tanto conteúdo de qualidade e suportado por tantos sistemas complexos que trabalham em conjunto tão bem, é impressionante. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é um jogo sublime que dá liberdade ao jogador para explorar um mundo fantástico da forma que quiser.